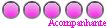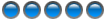A dominação masculina: apontamentos a partir de Pierre Bourdieu
por moises.junior
Mulher: sujeito dominado
O cotidiano é formado pela dominação de gênero. Em meio as nossas atividades mais triviais, a situação privilegiada do homem aparece como algo natural, desde o salário inferior concedido à mulher por trabalho igual a regras morais severas abrigadas atrás de “doces” normas que dizem o que convém ou não a uma “dama” ou a uma “moça de bem”, até ao estupro como estratégia militar, quando a violação das mulheres do inimigo significa afronta aos homens daquela nação e o desrespeito a raça oposta, já que do abuso sexual nascem crianças etnicamente híbridas (Saffioti, Almeida, 1995: 3).
A despeito das muitas mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas, o fato de que mulher e homem vivem uma relação hierarquizada tem sido apontando em várias pesquisas [1] e pode ser por nós visualizado diariamente sem oferecer nenhuma dificuldade. As relações de gênero têm como transversal em sua dinâmica a dominação e o poder. O poder necessariamente implica numa relação de dominação, no nosso caso especifico, de homens sobre mulheres. Entretanto, pensar esta dinâmica como unilateral, ou seja, como uma barbárie masculina é incorrer no erro da vitimização. A mulher também é sujeito nesta relação, sujeito dominando, heterônomo, não autônomo, mas o é (Chauí, 1985).
A noção de sujeito sofreu uma verdadeira revolução a partir da década de 70 com os filósofos pós-estruturalistas. Já não se concebe mais a idéia centralizante de sujeito. “Podemos dizer mesmo, que, nos últimos anos, é inegável no quadro da reflexão teórica das ciências sociais e humanas a evidência de uma progressiva e sistemática desconfiança em relação a qualquer discurso totalizante e a um certo tipo de monopólio cultural dos valores e instituições ocidentais modernas”. (Monteiro, 1997)
As relações de poder não são estáticas, tampouco se encerram no binômio dominador/dominado, em função do poder não estar localizado num lugar específico, pois as relações de força interagem entre si. A descentralizaçã o do sujeito e o desvio do macro como catalisador do poder – o Estado na visão marxista – trouxe nova luz sobre a análise social. O poder está no micro, está nas relações cotidianas, está circulando entre as pessoas, não está nas pessoas (Foucault, 1999: 183). Deste modo, “pensar numa simples dominação global de ‘oprimidos’ já não faz sentido para entender processos complicados de relações sociais; as correlações de força são dinâmicas, interagem entre si, se reorganizam, se separam, se contradizem, ou formam sistemas mais abrangentes”. (Monteiro, 1997).
O conceito de gênero [2] foi criado com a finalidade de deslocar o foco das relações entre os homens e mulheres para o social, antes concebidas no âmbito biológico, por conseguinte tidas como naturais. Supera-se a discussão primeira de igualdade e de diferenças (Scott, 2002: 24) e avança na discussão histórica e relacional de gênero, em outras palavras, o fato de que as realidades históricas são construídas, determinando o social, o cultural e as subjetividades definindo o que é ser homem e o que é ser mulher é descortinado. Deste modo, analisar as relações de gênero, a partir de qualquer realidade histórica sem dúvida é o caminho para mapear as assimetrias e regimes excludentes que por se repetirem em quase todas as culturas ao longo da história humana, encontram-se cristalizados e com uma áurea natural quase acima da questionabilidade, não fosse à resistência destes sujeitos dominados que no último século desdobrou-se em marchas, protestos, reivindicações e teorizações a respeito desta disposição “natural” das coisas.
A noção de sujeito descentralizada elaborada pelos filósofos pós-estruturalistas, numa dimensão relacional foi incorporada nas elaborações teóricas de boa parte das feministas. Deste modo, falar de uma dominação sem resistência e sem participação é ignorar a autonomia do sujeito e voltar à antiga discussão sujeito/objeto. Por esta razão o discurso da microfísica do poder é útil para pensar os microníveis da relação de dominação, que se estilhaça em diversas áreas com sujeitos e não um sujeito (Hekman, 1996: 271). Estas relações não são estabelecidas sem conflitos, são hierárquicas e de poder de um sobre outrem. Num mundo que confere maior importância ao sexo masculino é possível deduzir que a primeira experiência de uma recém-nascida é a desvantagem, “ela já nasce como sujeito dominado” [3] . Deste modo, a relação com o mundo se inicia como uma relação de forças e será reproduzida pela sociedade e pelas instituições que a formam.
Em seu livro A dominação masculina, Bourdieu parece trair a sua própria teoria da luta pelo campo de poder, luta esta travada no interior do campo entre os que estão a margem e no centro, este primeiro para alcançar o núcleo e aqueles para permanecer nele, ou seja, as lutas são constante entre os agentes. Contudo, em A dominação masculina as mulheres absorvem passivamente a “ordem masculina do mundo”, na qual elas estão embebidas, como que em conluio com seus próprios dominadores (1998: 22-23). É inegável que historicamente as mulheres sempre tiveram que enfrentar a desigualdade, todavia, é tão verdade quanto o fato de que elas nunca se submeteram completamente. “Submissão e resistência sempre fizeram parte da vida das mulheres” (Strey, 2001: 9). Essa passividade alegada por Bourdieu não encontra paralelos na história, pois a resistência é parte inerente da dominação, tencionando o poder a todo o tempo.
Igreja: estruturante e estrurada da/pela ordem masculina do mundo
As relações de gênero não podem ser entendidas como fato isolado na sociedade, pelo contrário, elas são constitutivas de toda realidade, pois o modelo paradigmático de ser homem e ser mulher regula todas as nossas atividades. Bourdieu afirma que os agentes específicos – aqui está o homem e a mulher – e as instituições, - Escolas, Igrejas, Estado, família – são estruturadas e estruturantes neste processo de naturalização da dominação, ou seja, estes agentes ao mesmo tempo em que têm poder de moldar a sociedade é por ela moldada, na medida em que não é possível estabelecer onde essa reprodução de “esquemas generativos” se inicia, em última análise, trata-se da relação dialética entre a conjuntura e a estrutura do campo. Neste sentido afirma:
“ora longe de afirmar que as estruturas de dominação são a-históricas, eu tentarei pelo contrário, comprovar que elas são produto de um trabalho incessante (e, como tal histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos (entre os quais os homens, com suas armas como violência física e a violência simbólica) e instituições, famílias, Igreja, Escola, Estado. (2003: 46, grifo do autor)
As representações sociais do homem e da mulher não regulam apenas as relações interpessoais entre homens e mulheres, mas também entre homens e homens e mulheres e mulheres. Todavia não se restringe ao âmbito interpessoal, pois são igualmente marcadas pela dominação de gênero as relações no âmbito econômico, político e religioso. Isso porque o habitus se refere tanto ao social quanto ao individual, uma vez que precede a escolha que antecede a ação. Assim, o processo de internalização da objetividade torna-se objetivação internalizada, pois já está no habitus humano, traduzido em estruturas, costumes, tradições e normas, assimilados como “certo” “normal” e “natural”. Deste modo, afirma Fonseca (2001: 29-30) os seres humanos nascem com uma distinção “natural”
“bastando-lhes ser o que são para ser o que é preciso ser, seu habitus sexuado, natureza socialmente constituída, ajusta-se de imediato às exigências do ‘jogo’, o qual é orientado por um conhecimento sem consciência e por uma intencionalidade sem intenção”.
O Habitus é um conceito fundamental para entender como a prática da dominação adquire um caráter natural, dado e quase divino. É tanto conhecimento obtido, bem como um capital, ou seja, significa “disposição incorporada, quase postural” (Bourdieu, 2002: 61) do agente, em outras palavras, é a objetividade das práticas subjetivas. Nesta linha de pensamento, o habitus pressupõe um conjunto de noções que antecede a ação, esta última constituindo- se nas práticas dos agentes no interior do campo social. Nas palavras de Ortiz (1994:16), “o habitus se sustenta, pois, através de ‘esquemas generativos’ que, por um lado, antecedem e orientam a ação e, por outro, estão na origem de outros ‘esquemas generativos’ que presidem a apreensão do mundo enquanto conhecimento” .
A Igreja é um dos pilares sobre o qual se assenta a relação hierarquizada entre os sexos. As religiões são detentoras do capital simbólico e, portanto, manipulam a produção simbólica e a circulação dos bens simbólicos, e o fazem através de representações, linguagens e palavra autorizada, reforçando e sacralizando a relação desigual entre homens e mulheres. A estrutura deste campo religioso é um espaço caracterizado por lutas e tensões entre os agentes e as instituições.
A concorrência pelo poder religioso deve sua especificidade (em relação, por exemplo, à concorrência que se estabelece no campo político) ao fato de que seu alvo reside no monopólio do exercício legítimo do poder de modificar em bases duradouras e em profundidade a prática e a visão do mundo dos leigos, impondo-lhes e inculcando-lhes um habitus religioso particular, isto é, uma disposição duradoura, generalizada e transferível de agir e de pensar conforme os princípios de uma visão (quase) sistemática do mundo e da existência (Bourdieu, 2003b: 88).
A Igreja contribui para manutenção da ordem política, na realidade, ela reforça simbolicamente esta ordem. Ana keila Pinezzi (2004: 194-195) aponta o trabalho de uma igreja protestante histórica para inculcar em seus membros o fato de que a submissão feminina ao homem (subalternidade esta que a impede de ascender a qualquer cargo ordenado na Igreja) é antes um retrato da própria relação da igreja com Cristo, da qual ele é o “cabeça”. Neste e em outros casos o poder religioso dá uma áurea de normalidade ao poder político que torna natural a dominação e a exclusão de mulheres do controle da instituição, o faz por meio da sua teologia, dos seus discursos e normas. Quanto a isso pondera Bourdieu (2003b: 69)
“A estrutura das relações entre o campo religioso e o campo do poder comanda, em cada conjuntura, a configuração da estrutura das relações constitutivas do campo religioso que cumpre uma função externa de legitimação da ordem estabelecida na medida em que a manutenção da ordem simbólica contribui diretamente para a manutenção da ordem política”.
Entretanto a relação dominador/dominado, não acontece sem lutas e resistência, pois “a estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes e as instituições engajadas na luta, ou, se preferirmos, da distribuição do capital especifico que, acumulado no curso das lutas anteriores, orienta as estratégias ulteriores” (Bourdieu, 2003b: 120). A lógica interna da dominação só funciona porque os dominantes utilizam categorias do ponto de vista dos dominados, o que faz com que o dominado não perceba que aquela é uma relação de forças. Na realidade “os sistemas simbólicos devem sua força ao facto de as relações de força que neles se exprimem só se manifestam neles em forma irreconhecível de relações de sentido[...] ”. (Bourdieu, 2002: 14) A tradição judaico-cristã é predominantemente misógina. O androcentrismo está impregnado nos textos tidos como sagrados, nas doutrinas, nos códigos internos, na tradição e nos cantos, isto é, no modo de exercitar as suas respectivas religiosidades. O sagrado está estreitamente relacionado ao homem enquanto a maldade ao elemento feminino [4] . Relacionar a masculinidade ao divino legitima a superioridade das qualidades concebidas como masculinas, em última instância, cria as identidades de gênero como bem afirmou Lemos “se sentir como alguém especial para o sagrado é fator de grande peso positivo na formação de uma identidade” (2001/2002: 79), ou seja, a tradição cristã tem privilegiado o homem nesta relação complexa, portanto tem legitimado a dominação masculina dando a ela um aspecto essencial o de sacralidade e de ordenança divina. A Igreja, enquanto instituição formadora de sentido, tem papel fundamental na criação e perpetuação das identidades de gênero, pois é inegável que a influência das idéias religiosas ainda é muito forte na nossa sociedade, ainda que esta se afirme laica. Ela reforça justamente a idéia da inferioridade da mulher por meio dos seus discursos ratificados nos modelos paradigmáticos de mulher tipificados nas figuras de Maria e Eva. Qualquer tentativa de inversão desta ordem é uma tentativa contra o corpus sagrado que controla a produção dos bens simbólicos. Assim, “qualquer mulher que queira mudar essa ordem, não estará somente se rebelando contra uma ordem humana, mas, acima de tudo contra, desobedecendo a Deus e piorando anda mais sua condição de pecadora, arriscando a atrair mais desgraças ainda sobre a humanidade”. (Lemos, 2001/2002: 83, grifo nosso).
Conclusão
O esforço de Pierre Bourdieu em compreender a lógica da dominação masculina deve ser reconhecido, quer se concorde com suas idéias ou não. Ele parte do pressuposto que a ordem do cosmos é masculina, inscrita nos corpos de ambos os sexos, não havendo possibilidade de escapar dela, porque ele se evidencia na natureza biológica mostrando-se como natural quando na realidade é também construto social naturalizado. De fato, ele descortina a complexidade da questão da dominação com uma meticulosidade admirável; por outro lado, surpreende o fato de que um certo fatalismo é notado em sua fala quando desconsidera a participação das mulheres como agentes também, no sentindo de mostrar as interrupções que são próprias do processo de dominação, em A Dominação Masculina, a hegemonia é homogênea.
A alquimia perfeita entre a igreja e a dominação masculina é apontada como parte da economia das trocas simbólica, pois cria as identidades de todos nós homens e mulheres, a partir de elementos misóginos que permeia toda história da tradição judaico-cristã . A religião reforça, de um modo geral reforça essa idéia da mulher como sempre disposta a servir, a perdoar, a ser submissa, a completar se na maternidade, esta vista como algo divino que a coloca em segundo plano sempre. Está ai Maria, serva submissa que aceita o seu destino, paradigma para todas as mulheres. Nesse sentido, é instigante pensar sobre a razão ou razões pelas quais essas mulheres mantêm uma relação tão particular com a Igreja, não obstante esta mesma Igreja lhe conferir um lugar secundário, ainda que sejam a maioria absoluta neste tipo de instituição social e que é, especialmente, pelo seu trabalho que a Igreja se mantém no cotidiano. Isso fica para um outro momento.
Referências Bibliográficas
ALMEIDA, Suely S., SAFFIOTI, Heleieth I. B. Violência de gênero: poder e impotência. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003
____________ ___. A dominação masculina revisitada. In: LINS, Daniel. A dominação masculina revisitada. Campinas: Papirus, 1998.
____________ ___. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2003b.
____________ ___. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
CHAUI, Marilena. Participando do debate sobre mulheres e violência. In: Perspectivas Antropológicas da Mulher, n.4, 1985.
CORRÊA, Marisa. O sexo da dominação. In: Novos estudos CEBRAP, n.54, julho de 1999.
FONSECA, Tânia Mara Galli. Utilizando Bourdieu para uma análise das formas (in)sustentáveis de ser homem e mulher. In: STREY, Marlene Neves at al. Construções e perspectivas em gênero. Porto Alegre: Editora Unisinos, 2001.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
HEKMAN, Susan J. (org). Feminist interpretations of Michel Foucault. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1996.
LEMOS, Carolina Teles. Equidade de gênero: Uma questão de justiça social e de combate à violência – Idéias religiosas como ângulo de análise. In: Revista Mandrágora, ano 7, n. 7/8, 2001/2002. São Bernardo do Campo: UMESP.
MONTEIRO, Marko. A perspectiva do gênero nos estudos de masculinidade: uma análise da Revista Ele Ela em 1969. In:
http://www.artnet. com.br/~marko/ artigo.html. 1997.
PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
PINEZI, Ana Keila. Gênero e hierarquia entre protestantes históricos. In: Estudos de Religião, n.26, junho de 2004. São Bernardo do Campo: Umesp.
ORTIZ, Renato. A procura de uma sociologia da prática. In: ORTIZ, Renato. Pierre Bourdieu. São Paulo: Ática, 1994, pp. 7-36.
SAYÃO, Débora Thomé. Corpo, poder e dominação: um diálogo com Michelle Perrot e Pierre Bourdieu. In: Revista Perspectiva, v.21 n.01, jan/jun 2003. Editora da UFSC: NUP/CED. Florianópolis.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. In:
www.dhnet.org. br/textos/ generodh/ gencategoria. html. Acesso em março de 2004.
____________ . A Cidadã Paradoxal: As Feministas francesas e os direitos do homem. Florianópolis: Mulheres, 2002.
STREY, Marlene Neves. Será o século XXI o século das Mulheres? In: STREY, Marlene Neves et al. Construções e perspectivas em gênero. Porto Alegre: Editora Unisinos, 2001.
WACQUANT, Loïc J. D. Durkheim e Bourdieu: A base comum e suas fissuras. In: Novos Estudos CEBRAP, n. 48, julho de 1997.
____________ ______. O legado sociológico de Pierre Bourdieu: duas dimensões e uma nota pessoal. In:
http://www.scielo. br/scielo. php?script= sci_arttext&pid=S0104-447820020 00200007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em julho de 2004.
Adriana de Souza é Mestre pelo programa de Pós-graduação em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo e pesquisadora do NETMALMandrágora - Grupo de Pesquisa de Gênero e Religião. E-mail: adrianasouz@ ******.com
Domme Morrigan